LAYLA M. E AS FRONTEIRAS EXCLUDENTES DO DISCURSO OCIDENTAL E COLONIAL-CAPITALÍSTICO
LAYLA M. AND THE EXCLUSIONARY BOUNDARIES OF THE WESTERN AND COLONIAL-CAPITALIST DISCOURSE
Eleni Furtado Ververidi*
Jimena de Garay**
Alice De Marchi Pereira de Souza***
Resumo
O objetivo deste artigo é pensar algumas questões disparadas a partir da análise do filme Layla M. (Holanda, 2016), protagonizado por uma jovem de família marroquina que nasce e cresce em Amsterdã. Buscamos trazer à luz alguns atravessamentos do discurso ocidental em produções socioculturais e científicas contemporâneas, alguns dos formatos com os quais estes se expressam e sua relação com o sentimento de pertencimento e seus efeitos nos processos de subjetivação. Aliadas a autoras/es feministas decoloniais e pós-estruturalistas e dentro deste recorte de análise, discutiremos a associação da produção discursiva da colonialidade do poder e das relações de gênero - que regem o capitalismo - com os processos migratórios, ao analisar fronteiras sócio-subjetivas estabelecidas e expressas pelas desigualdades sociais e relacionais. Por último, propomos alternativas ou saídas decoloniais feministas, que prezam pela pluralidade e a singularidade na construção de narrativas.
Palavras-chave: cultura - capitalismo - feminismo - colonialidade - pertencimento
Abstract
This article’s objective is to reflect upon some issues brought up in the film “Layla M.” (Netherlands, 2016) protagonized by a young woman coming from a marroquin family, who was born and raised in Amsterdam. We seek to analyze some factors that cross the western discourse in sociocultural productions and scientific ones, some of the forms with which they are expressed, whereas their relation with the feeling of belonging and their effects in the process of subjectivation. Allied to decolonial and post-structuralist authors and within this perspective of analysis, we will discuss the association of the discursive production of the coloniality of the power and gender relations -that rule Capitalism- with the migratory processes, while analyzing the socio-subjective borders adopted and expressed through social and relational inequalities. At last, we propose feminist decolonial alternatives or exits, that value the plurality and the singularity in the construction of narratives.
Keywords: Culture - Capitalism - Feminism - Coloniality - Belonging
Introdução
No mundo contemporâneo, são infinitas as produções socioculturais no cotidiano, as quais possuem diversas implicações e efeitos significantes na vida das pessoas. O objetivo deste trabalho é realizar uma análise sobre a associação entre a produção discursiva da colonialidade, do poder e das relações de gênero - que regem o capitalismo - e os processos migratórios, ao lançar luz sobre as fronteiras sócio-subjetivas estabelecidas e expressas pelas desigualdades sociais e relacionais. Desta forma, discutiremos alguns atravessamentos das produções socioculturais e científicas contemporâneas, os formatos através dos quais se expressam, sua relação com o sentimento de pertencimento e seus efeitos nos processos de subjetivação.
Fazemos isso através da análise do filme ficcional Layla M., do ano de 2016 e de produção holandesa, sob a direção da cineasta Mijke de Jong. Nele, é apresentada uma parte da história de Layla, uma mulher jovem, muçulmana, racializada como inferior[*] à branquitude europeia, nascida e crescida na Holanda - um país com um poder sociopolítico considerável na atual distribuição geopolítica mundial- cujas origens são marroquinas, país colonizado e oprimido pelas forças eurocêntricas e hegemônicas discutidas por Quijano (2005). Ao ser excluída e silenciada, cotidianamente, em seu próprio país de criação, Layla tenta por meio de sua raiva e revolta exibir as discriminações que sofre pelo olhar desse discurso dominante, europeu, branco, colonial e masculino.
Optamos por analisar um filme, uma vez que “os princípios fundamentais da teoria do discurso advinda de Foucault (...) podem ser aplicados à análise de audiovisuais” (Gaspar, 2007). Produções deste tipo, dependendo do modo como são concebidas e executadas (e dependendo de quem as realiza e de seus objetivos, é claro), podem ser ferramentas críticas potentes, de discursos e vivências, cotidianas reais. Esta representação é produzida a partir de um agenciamento[†] de discursos e inclui em si variadas dimensões que compõem o processo de produção do filme: desde perspectivas históricas determinantes às experiências, até o inconsciente da equipe que criou e executou o filme - a direção, os roteiristas e até os tradutores. Assim, para questionar um enunciado, há que se analisar o discurso ao qual este está remetido. Conforme Foucault (2008) aponta, o não dito de um discurso, seu campo, pode dizer muito mais sobre sua própria enunciação. Isto, pois as margens dos livros e das obras, unidades materiais do discurso, não são nítidas, não se delimitam ao objeto material, mas são produzidas a partir de um rizoma[‡] de discursos. Para questionar um enunciado, então, há que se analisar o discurso no qual este está embasado (Foucault, 2008).
Para Foucault (1997, como citado em Gaspar, 2007) os discursos consistem em práticas formadoras dos objetos dos quais se referem. Tais práticas surgem de acontecimentos históricos, os quais podem consistir em formações discursivas - sob o ponto de vista científico -, e formações não discursivas, a partir de experiências pré-científicas.
A necessidade da história da cultura ocidental predominante de produzir uma verdade universal mascara a vontade de produzir tal verdade, mecanismo discursivo esse que Foucault (2008) chama de “vontade de verdade”. Consiste em um dos mecanismos de controle que atravessam externamente os sujeitos que produzem o discurso. Esse mecanismo, além de excluir, invisibiliza outros discursos e disfarça as desigualdades que o sustentam. Entende-se então que as obras e a produção audiovisual podem servir como ferramentas de influência cultural, mas também como campos de análise do discurso (Foucault, 2008).
Nossa análise visa expor os efeitos de tais desequilíbrios paradoxais e desigualdades sociais, ocultas e ao mesmo tempo evidentes, no discurso da neutralidade cientificista e ocidental, uma vez que é este o qual rege o filme, influencia e determina a cultura global dominante. Busca-se apresentar como as relações de poder, hierarquizantes e categorizantes, inseridas no discurso ocidental, podem facilmente passar despercebidas e serem naturalizadas, gerando, assim, violências marcantes nos sujeitos subalternizados mantidos na margem (hooks,[§] 2019).
A partir disso, para começar, discutiremos sobre a relação entre as representações e a produção de subjetividade, apontando para os paradoxos dos discursos da sociedade ocidental. Usaremos como base as perspectivas de Deleuze e Guattari, sobre a subjetivação e a ideia de identidade e cultura, além da de Foucault sobre as formações discursivas. Em seguida, analisaremos como tais formações afetam - violentamente - o sentimento de pertencimento, em especial dos sujeitos subalternizados, para, por fim, trazermos visões decoloniais e feministas, propondo alternativas que prezam pela pluralidade e a singularidade na construção de narrativas.
Representações e subjetividade: paradoxos da sociedade ocidental
As representações sobre grupos de sujeitos se fazem presentes com constância no dia a dia, seja nos filmes, seja nas relações sociais. Como veremos a seguir, o sistema social hegemônico tem algumas formas de exercer o controle sobre tais representações. No entanto, a pertinência temática da presente análise de discurso se intensifica ao considerar-se a perspectiva de Gilles Deleuze e Claire Parnet (1998) e Félix Guattari e Suely Rolnik (1996), segundo os quais não há separação entre representação e subjetivação. Isto significa que a subjetivação das Laylas pelo mundo, suas existências e seus devires[**], são construídos, também, por meio das representações e enunciados produzidos e reproduzidos diariamente – ou até mesmo os não-produzidos devido à falta de representatividade. O próprio filme de Layla M. consiste em uma expressão desse fenômeno, um produtor de sentidos que produz reflexões, reações e sentimentos.
Em determinada cena do filme, Layla serve chá a seus pais, enquanto assistem à televisão. Neste momento ela demonstra seu incômodo pelo fato de o programa a que estão assistindo estar, mais uma vez, representando o padrão fenotípico eurocêntrico de mulheres brancas, felizes, em uma casa de características da elite europeia. A experiência retratada pelo filme é bem diferente da hegemônica. Não assistimos à Amsterdã da liberdade e do progresso, mas à experiência de Layla, de ser o “outro”. A importância do filme se dá no fato de enunciar as dinâmicas que atravessam a subjetividade de Layla, cotidianamente. Situações como esta são constantes nos processos de subjetivação de indivíduos discriminados socialmente, mas passam despercebidas para quem pertence e é incluído no olhar da hegemonia cultural.
Guattari (Guattari e Rolnik, 1996) adjetiva as subjetividades de capitalísticas[††] para se referir à subjetivação predominante relativa ao Capitalismo Mundial Integrado (CMI), conceito desenvolvido pelo mesmo e que se refere à mundialização do capitalismo, não somente como modelo econômico, mas de “contaminação das subjetividades” e dos “sistemas de informação e manipulações psicológicas” (Guattari, 1981: 215). A produção de subjetividade no CMI vai além de ideias e significações relativas a sistemas de identificação e de identidade do plano das representações. Consiste em uma máquina de produção desejante que almeja ter como fruto indivíduos padronizados, os quais atendem a sistemas de submissão e segregação. As subjetividades dizem respeito às percepções, às relações e aos imaginários, produzindo poder de controle social, ao mesmo tempo em que consistem em condição para a dominação de tal sistema, tal cultura.
No fundo, só há uma cultura: a capitalística. É uma cultura sempre etnocêntrica e intelectocêntrica (ou logocêntrica), pois separa os universos semióticos das produções subjetivas. Há muitas maneiras de a cultura ser etnocêntrica, e não apenas na relação racista do tipo cultura masculina, branca, adulta, etc. Ela pode ser relativamente policêntrica ou polietnocêntrica, e preservar a postulação de uma referência de “cultura-valor”, um padrão de tradutibilidade geral das produções semióticas, inteiramente paralelo ao capital. Assim como o capital é um modo de semiotização que permite ter um equivalente geral para as produções econômicas e sociais, a cultura é o equivalente geral para as produções de poder. (Guattari e Rolnik, 1996: 23-24).
Parece-nos importante articular a estas formulações o que a escritora, psicanalista e teórica Grada Kilomba (2019) trabalha em seu livro Memórias da Plantação: episódios de racismo científico. Nele, a autora faz uma compilação de histórias subjetivas e emocionais de racismo atual, para dar voz ao passado - o qual, segundo ela, é necessário para entender o presente a fim de descolonizar o saber eurocêntrico. Isso porque ser racializada ou racializado é ter sua realidade e identidade criada por outros/as, colocando-se no lugar da “Outridade”. Significa não ser ouvida e não pertencer, ser mantida longe da consciência, em um sistema de controle invisível e indizível (Kilomba, 2019). Na mesma esteira, bell hooks (2019), intelectual feminista estadunidense, descreve a existência de um “centro” com fronteiras opressivas, longe do qual são mantidos sujeitos na “margem” e objetificados em categorizações de raça, gênero, sexualidade, entre outros (bell hooks, como citado em Kilomba, 2019).
Ainda sobre o cruzamento entre as categorizações acima citadas, a feminista negra colombiana Mara Viveros Vigoya (2016) chama a atenção para a construção histórica e o alcance teórico e político do termo “interseccionalidade”, destacando a cosubstancialidade dos grupos sociais envolvidos e a importância do enfoque interseccional contextualizado e localizado. Elaborando sobre a extensão do princípio feminista “o pessoal é político”, a autora discorre sobre a genealogia do paradigma interseccional como composto por uma análise crítica em vários níveis, que articula aspectos macrossociais e microssociais. Nesse sentido, é fundamental pôr em análise a forma em que a colonialidade discursiva instalada nos feminismos hegemônicos homogeneiza as mulheres - e os homens - sem levar em consideração o entrecruzamento das relações sociais de poder pautadas, especialmente, pelos marcadores de raça e classe.
Concordamos com a ideia de que o poder do discurso ocidental é praticado justamente pela “colonialidade do poder” (Quijano, 2005), a partir da qual é estabelecida uma concepção espaço-temporal específica que atravessa o CMI e que também atinge e constrói as relações inter e intrasubjetivas (inclusive criando tais dimensões), categorizando e dividindo os sujeitos. São, então, criados discursos dentro do discurso ocidental, tal como o “mito” do evolucionismo, a noção de tempo linear e unidirecionado, tendo como ponto de partida a colonialidade e uma divisão dicotômica do mundo: europeu/não-europeu, tradicional/moderno, capital/pré-capital, primitivo/civilizado. Talvez fosse mais adequado, no entanto, referir-se a tais dicotomias como falácias, ao invés de “mitos”, em respeito à profundidade dos aprendizados do saber mitológico. Decorrente de tais falácias é produzida a ideia de um processo transformativo de continuidade e homogeneidade - quando de fato, é amplamente heterogêneo e descontínuo (Quijano, 2005).
Logo na primeira cena do filme, durante um jogo comunitário de futebol, Layla, que cumpre a função de bandeirinha, é desconsiderada e silenciada em uma discussão sobre uma atitude do juiz, o qual ignora a bandeira levantada por Layla indicando o impedimento. O juiz infantiliza e ignora a existência de Layla e se dirige a seu pai na sua frente para perguntar: “Por que vocês sempre criam problemas? É sempre assim” (Jong, 2016: min. 2). O juiz, homem branco, usa seu poder, advindo do “centro”, deslegitimando a palavra de Layla, da “margem”. Assim, expressa sua superioridade de forma arbitrária, decreta que o tiro foi livre e a expulsa do jogo. Ela contesta ao juiz que sabe falar por si, joga sua bandeirinha no chão, com nítidos sentimentos de raiva, revolta e injustiça pelo fato das regras não serem cumpridas no jogo e abandona o campo de futebol. Saindo do jogo, comenta com sua melhor amiga, também de origem árabe, enquanto anda em direção à bancada, que “são um bando de racistas”.
Em seguida, Layla passa por sua mãe - que estava assistindo o jogo na bancada -, a qual é representada como uma figura protetora, que tenta neutralizar a situação, ao lhe dizer: “Filha, é só um jogo”; Layla responde que “no entanto, tem regras” (Jong, 2016: min. 3). Enquanto isso, pega sua mochila e abandona o cenário, furiosamente. O filme tenta retratar o sentimento e as opressões sofridas em situações cotidianas como essas, ao ser colocada(o) na margem, os fatores que podem atravessar esse processo e as subjetivações envolvidas. Essa angústia está presente ao longo de todo o filme.
O poder cultural se exerce nesse instante, visto que, além das supressões violentas sofridas para a constituição de uma “cultura nacional”, as culturas são sempre compostas por diferentes classes sociais, generificadas e hegemônicas perante às culturas colonizadas (Hall, 2006). O etnocentrismo cultural da Europa e dos Estados Unidos operam modelizando sistematicamente toda produção cultural. Apesar do filme de Layla M. a princípio aparentar estar representando o que é ser Layla em um mundo desigual e injusto, acaba retratando o resultado que o próprio sistema espera dela, uma muçulmana que vai contra tudo e que consiste em uma ameaça para o sistema. O que é de interesse para a subjetividade capitalística é capturar os resultados de processos de singularização e associá-los com suas referências de identificação pré-fabricadas, e não valorizar o processo em si (Guattari e Rolnik, 1996).
Isto porque a identidade está vinculada à necessidade de reconhecimento, característica da ordem capitalística que busca a produtividade e a ascensão social. Os enunciados criam quadros de referência aos quais as identidades tendem a se associar. Tais associações, porém, não necessariamente são suficientes e/ou satisfatórias, dentro do processo de produção de subjetividade, pois existe também a singularidade, com seu movimento de escape às formas de controle. Vale ressaltar então, que a produção capitalística atravessa os indivíduos não somente modelizando estes mesmos, mas também o nível das representações e das identidades, âmbitos estes indissociáveis. No entanto, o que os sujeitos necessitam, além de serem identificáveis, é terem seus processos subjetivos reconhecidos, e não apenas suas identidades (Guattari e Rolnik, 1996).
Por isso, para Guattari e Rolnik (1996), a identidade cultural e a cultura como um todo territorializam a subjetividade, numa tentativa constante de cristalizar e bloquear os devires e as invenções de si e de mundos que desviem de suas referências, alimentando uma produção repetitiva e assimilativa. É a partir dessa manipulação e maquinização subjetiva, que ocorre a incorporação dos signos capitalísticos às dimensões que julga-se serem as mais “íntimas”, que atendem a uma consciência acusadora subordinada à produção capitalística. Rolnik (2018) se refere a essa política como inconsciente “colonial-capitalístico”, termo que igualmente utiliza para se referir ao próprio Capitalismo Mundial Integrado.
Para Preciado (2018), a condição inconsciente deste regime, ao sofrer de uma “patologia histórica”, molda a vitalidade, direcionando a força vital planetária a manter os signos capitalísticos, transculturais e transnacionais em vigor. Consiste num funcionamento vigente e dominante, uma vez que se apropria do desejo - portanto não somente na macropolítica, mas na micropolítica também - o que incide sobre os modos de subjetivação e as relações sociais e convence de que é o único. Sendo assim, o “inconsciente colonial-capitalístico”, controlado por tal regime opera de forma reativa, tendo perdido o contato com o “saber-do-vivo”, próprio a um plano do sensível, visto que foi também excluído da racionalidade capitalística (Rolnik, 2018).
O que assistimos em Layla M. é a naturalização do resultado de sua subjetivação. Uma jovem com origens não-ocidentais que, apesar de nascida e crescida na realidade ocidental, ainda experimenta algo que não cabe ali - da mesma forma que há algo desta realidade que não lhe cabe. Não há espaço para o devir de sua subjetivação dentro do CMI. Os fatores contribuintes para isto são expostos no filme, sem, porém, serem questionados. Os paradoxos são reconhecidos, mas a sensação transmitida é a de que não há algo a se fazer além da aceitação ou da resistência efêmera, como veremos a seguir.
Pertencimento, violências e a cultura capitalística: os efeitos de viver em paradoxos colonialistas.
Em nossa análise, o filme, apesar de retratar o quão angustiante pode ser a existência da Layla no mundo do CMI, principalmente ao estar na margem, contribui para a produção da percepção de que toda essa busca identitária e cultural de Layla é apenas uma revolta rebelde da adolescência que em algum momento vai cessar. Adolescência, aliás, também é um conceito da cultura ocidental (Coimbra, Bocco e Nascimento, 2005).[‡‡] Há na vida de Layla sempre uma pressão para que ela abrace a vida ocidental sem questionamentos, assim como as pessoas mais queridas dela já o fizeram, pois eventualmente ela se adaptaria a esta realidade que lhe é oferecida, presumindo que não há alternativas.
A assimilação cultural por parte dos pais e de sua melhor amiga, também muçulmana, aparece como uma tentativa constante de mostrar a ela o quanto essa sua revolta é apenas uma fase que ela deverá abandonar para se adaptar socialmente e se “modernizar”, se “normalizar”. Seu pai, esgotado com a rebeldia de Layla e seu engajamento no ativismo que questiona o eurocentrismo, grita com ela após ela ter lhe mostrado vítimas da guerra contra a Palestina em seu celular: “Não fique olhando essas desgraças, concentre-se nas suas provas” (Jong, 2016: min. 13). Assistimos, então, a uma família que deixou sua vida em Marrocos no passado, ignorando as situações econômico-políticas envolvidas, pelo fato de no presente terem a oportunidade de viverem “felizes”, longe do mal - no caso, o mundo não-ocidental. E para isto, têm de ser gratos ao que a Holanda lhes está oferecendo, ainda que isso consista em outras violências, com formatos diferentes, tais como o racismo e a xenofobia. E ainda que a violência vivenciada nos territórios não-ocidentais seja, em grande medida, resultado da colonialidade.
Fica evidente no filme a existência de dois "lados", dois mundos, dos quais Layla teria de escolher apenas um. A divisão entre “nós” e “eles” está, de forma constante, nítida no decorrer da obra. O que nos remete ao que o sociólogo Boaventura de Souza Santos (2007) nomeia como pensamento abissal da cultura ocidental. O autor usa a metáfora de uma linha imaginária - abissal - que separa o mundo em dois: os incluídos e os excluídos; os que estão “deste” e “do outro lado da linha”, e que opera com um sistema de divisões, visíveis e invisíveis, em que as invisíveis fundamentam as visíveis (Santos, 2007).
A linha abissal, porém, está sendo cada vez mais percebida e exposta pelo “outro lado da linha”. Segundo Santos (2007), há três figuras principais que a fazem desmoronar, jogando luz às exclusões e às injustiças sociais e fazendo o lado “incluído” do mundo perceber sua existência: o terrorista, o migrante e o refugiado.
Layla não é nem “terrorista”, nem “migrante”, nem “refugiada”. Porém, pode-se observar que há algo nela que a coloca nesses lugares. Algo que decorre do fato de as fronteiras nacionais serem uma representação de como as fronteiras políticas e subjetivas - delimitações de vidas, de classificações e hierarquizações - formam os sujeitos e as sociedades (Zaatari, 2005). Ao pensarmos as fronteiras, mobilizamos a conceituação de Gloria Anzaldúa (1987), teórica cultural, chicana[§§] e feminista queer. Frisa-se que essas fronteiras, não são somente transnacionais, mas também subjetivas e, portanto, surgem no encontro, entre raças, entre classes, entre corpos:
Uma fronteira é uma linha divisória, uma faixa estreita ao longo de uma borda íngreme. Uma zona fronteiriça (borderland) é um lugar vago e indeterminado, criado por resíduos emocionais de limites artificiais. É um estado constante de transição. O proibido e o banido são seus habitantes. Los atravessados moram aqui: o vesgo, o perverso, o queer, o problemático, o vira-lata, o mulato, o mestiço, o meio morto; em síntese, os que cruzam, os que ultrapassam, ou os que atravessam as bordas do “normal”. (Anzaldúa, 1987:2-3, tradução nossa).
O fato de Layla representar uma realidade híbrida, muçulmana marroquina que cresceu na Europa, a faz acessar uma “dupla consciência” (Hall, 2006), a do opressor – neste caso, branco, holandês, europeu - e do oprimido – aqui marroquino e muçulmano. No filme aqui analisado assistimos a Layla sentir-se assim dividida de forma constante; não conseguindo entender o paradoxo de não sentir sua pertença, de não ter um lugar em sua própria “casa”. Não se sentir representada e respeitada, como seus conterrâneos holandeses. Afinal, como sentir-se em casa quando não há segurança para ela? Em suas próprias palavras, em determinado momento em que está no carro em direção ao Oriente Médio, com o marido Abdel, recém-casados, e conversam sobre a infância dele em Marrocos, na cidade de Al Hoceima, Layla diz: “Eu adoraria isso. Essa sensação de plenitude. A sensação de pertencer ao lugar onde nasceu” (Jong, 2016: min. 46).
O não-pertencimento é um dos dispositivos do discurso ocidental. As relações de poder entre os discursos ocidentais e os de seus vários “outros/as” não são neutras nem igualitárias, uma vez que o discurso eurocêntrico impõe sua própria perspectiva, motivações e realidade como verdade ao/à “outro/a”, oprimindo-o/a. Transformar o/a outro/a em seu “resto” dependente do Ocidente, é uma das formas, objetificantes e autoritárias, para poder representar e produzir o/a outro/a a partir do olhar ocidental (Hall, 2016).
Em determinado momento do filme, Layla diz que o que a incomoda é o fato de, apesar de ter nascido em Amsterdã, sempre a perguntarem sobre sua origem, e ela ter que explicar constantemente. É necessário dar explicações para que seja compreensível que ela é de Amsterdã. Isto pode ser efeito de duas situações simultâneas descritas por Kilomba (2019) - e por mulheres árabes e arabe-americanas no livro Gender, Nation and Belonging: Arab and Arab-American Feminist Perspectives, tais como Malek (2005) e Alsultany (2005): em uma primeira instância, a cultura em que ela está vê algo em sua aparência que, de imediato, lhe atribui uma origem territorial externa, fora do espaço e do tempo atual, sendo essa uma política espacial, o “estrangeirismo”; segundo, sua resposta não é suficiente para quem pergunta, pois o discurso relacionado, o colonial, fala mais alto do que a voz de Layla.
Então, além do fator de ser não-branca, a “política do estrangeiro”[***] é mais um fator que estabelece sua racialização. A “política do estrangeiro”, o não-pertencimento, é produto desses silenciamentos, duplamente estabelecidos para o movimento de mulheres árabes (Malek, 2005). É uma situação similar à que Layla atravessa.
Segundo Kilomba (2019), as novas formas de racismo, originadas na inferioridade biológica entre raças, são agora experienciadas com a incompatibilidade do “diferente” em uma cultura nacional. A negritude não é passível de coexistência com a “europeidade”. Culturas e religiões, “diferentes” às de uma nação hegemônica, são uma ameaça identitária e de perda da superioridade conferida à branquitude e à masculinidade eurocêntrica. Afirmam-se, assim, discursos inferiorizantes, que transformam sujeitos em objetos, devido ao “aqui” se referir ao “centro”, a uma norma, e não à “margem”. Observar e questionar a alteridade, mantendo pessoas racializadas no lugar de “Outro/a”, é também uma forma de poder e controle. Ter que se explicar leva ao sentimento de não-pertencimento, uma vez que a pergunta tem como pressuposto implícito a afirmação de que não é possível que a pessoa seja “daqui” (Kilomba, 2019).
É esta a denúncia que Kilomba (2019) busca fazer à cultura eurocêntrica. Porém, o custo pago por isso, como se vê ao assistir ao filme Layla M., é ficar entre duas realidades que podem silenciar e apagar sua singularidade, neste mundo globalizado e eurocêntrico, a qual, além de ser racializada, também é “genderizada”. Dessa forma, mulheres racializadas como inferiores experenciam a linha abissal duplamente, visto que são excluídas do protagonismo branco do movimento feminista hegemônico, e do protagonismo masculino dos movimentos raciais e/ou culturais, tal como relata Kilomba (2019) no caso do movimento negro. No filme aqui analisado, identificamos esse movimento na experiência de Layla. Sua revolta é perante as discriminações sociais observadas na Holanda e, por outro lado, em relação à própria família, que a silencia e tenta apagar seu passado e também a sua religião, por meio da qual, em um segundo momento, na Jordânia, percebe que também é estruturada por essa mesma sociedade em que o masculino é considerado superior.
Entende-se no filme, de início, que as alternativas existentes para Layla são: ou sua adaptação a esse “melhor”, como sua família e amiga mais íntima tentam convencê-la, minimizando assim o racismo e o machismo; ou a existência de um motivo maior, como o fundamentalismo religioso anti-ocidental, fator condicionante para que a história de Layla seja de interesse para a sociedade holandesa. Isto é, sua subjetividade e as violências cotidianas sofridas, no fim das contas, são secundárias nessa história e é essa a angústia que acompanhamos durante o filme. O reconhecimento da discriminação em paralelo com a sua relativização.
Entende-se também, aqui, a complexidade que o radicalismo traz consigo, uma vez que atinge tanto o centro, quanto a margem (hooks, 2019). No entanto, percebe-se o peso e a violência do racismo e a discriminação de sujeitos à margem. Por esse motivo, vale mencionar que a análise do filme está sendo tratada através do ângulo das distorções e dissociações realizadas no momento de retratar tais questões, e não as questões em si. O filme, por meio da vida de Layla, visa retratar a expressão dessas problemáticas sociais, e é a partir disso que organizamos os eixos deste texto, para poder-se compreender, primeiro a proveniência de tais problemáticas, como estas funcionam e, em seguida, pensar em caminhos decoloniais para sair-se de tal estrutura adoecedora. Vale mencionar aqui, também, que aspectos da análise que concerne à religião, um tema complexo, tiveram que ser abordados mais superficialmente neste texto.
Então, ao mesmo tempo que Layla se vê entre esses dois mundos, se sente também excluída de ambos. Por um deles, sua família e o país onde ela é criada, um país que apaga e oprime sua subjetividade, obrigando-a a viver uma constante revolta, interna e externa. Por outro, o país ao qual migra, em uma segunda parte do filme, em busca de identificação cultural, que, apesar de sua idealização interna, por lhe conferir a ideia de sentimento de pertencimento ausente no lugar de sua criação, ao mesmo tempo a rejeita devido às consequências da securitização (Ole Waever, como citado em Estrada e Mattos, 2014), do colonialismo e do poder patriarcal. Nota-se como refere-se a uma lógica polarizada, na sociedade e no interior de Layla também, onde há lados, sem integração, partes que não resultam em uma totalidade singular, que não hibridizam, mas que dividem binariamente povos e subjetividades. “Uma” humanidade dividida.
A partir do que foi discutido acima, pode-se concluir que para o sistema colonial-capitalístico não aparenta existir uma terceira, ou quarta, opção para Layla. Isto fica evidente com o final do filme, em que, após ter ido para a Jordânia, ao voltar, ela é detida no aeroporto. Após toda a sua busca, todo o caminho que ela percorre, e as violências que ela sofre, as portas da Europa se fecham para ela. Sua subjetividade é limitada, e manipulada, apesar do reconhecimento das violências que ela vive. Seu corpo também o é. Após aventurar-se em busca do seu lar em ambos os lugares, conclui-se que ambas as portas estão fechadas para ela. A realidade do Oriente Médio, em específico, de Jordânia, não é sustentada longe de sua vida em Holanda, e Holanda, apesar de se propagar como “livre” e “inclusiva”, consiste em um lugar inóspito para Layla.
“Vou te estuprar e te expulsar pelada do país” (Jong, 2016: min. 46) é a mensagem que Layla recebe na Holanda após uma foto sua com a burca ser divulgada no contexto de uma manifestação política virtual. Essa enunciação discursiva simbólica poderia ser traduzida por “você não é daqui e, por isso, eu vou te violentar e te excluir”. É esse mesmo discurso que torna nítido que a retirada do véu não é a solução para quem tem um estupro, literal ou metafórico, aguardando-a no próximo passo. Com essa cena fica evidente que os homens europeus, que supomos serem autores da mensagem, não partilham de uma perspectiva de autonomia das mulheres sobre seu corpo, os aproximando do tão criticado olhar muçulmano sobre as mulheres. Para esses homens europeus, os corpos das mulheres, especialmente as racializadas, são violáveis.
É nesse sentido que o feminismo decolonial interpela as campanhas e cruzadas do feminismo hegemônico contra, por exemplo, o uso do véu. Para essa perspectiva, o ocidente não está livre de opressões religiosas e imposições estéticas sobre os corpos das mulheres. E, mais do que isso, para a emancipação de todas as mulheres do mundo, é necessário antes ter uma distribuição de recursos e acessos equitativos, pois neste mundo globalizado e colonial, a pressão do poder é exercida pela economia, a falta histórica de recursos.
Entende-se então até aqui, que há uma conexão estreita entre pertencimento, silenciamento e violência/morte. Tal associação é estabelecida pela existência dessas assimetrias interculturais, abrangendo especificidades históricas, as quais criam fronteiras que, além de territoriais, também são simbólicas, isto é, psíquicas, sociais, políticas, religiosas, entre outras, e produtoras de modos de subjetivação (Anzaldúa, 1987). Dessa forma, os discursos e o pertencimento social dependem de enquadramentos sócio-políticos, epistemológicos e produtores de poder. Enquadramentos, para Judith Butler (2015), se referem a formações sociais decisivas em relação à apreensão de uma vida. Em outras palavras, tais enquadramentos normativos são decisivos da “condição de precariedade” e de pertencimento de um corpo ao corpo social. São as condições de reconhecimento do estabelecimento de uma norma que fazem uma vida ser apreendida como tal, ou não (Butler, 2015).
Segundo a antropóloga estadunidense Abu-Lughod (2012), o relativismo cultural pode ser uma postura mais sensível comparando com o imperialismo cultural eurocêntrico. Porém, a aproximação das ditas “outras culturas” com naturalidade e passividade, como se fossem separadas do mundo, hoje globalizado e interconectado, é também o que cria a ideia de “identidade-monstro” dos muçulmanos e a necessidade de salvação de suas mulheres (Abu-lughod, 2012).
A dramatização da realidade da alteridade é uma forma de idealizar a liberdade - ilusória - do etnocentrismo europeu e estadunidense. O próprio movimento islâmico origina-se em resposta às ações de um mundo estruturado por forças ocidentais. Por isso, é necessário entender que, além da raça e gênero, a cultura também é política. É importante chamar a atenção para o caráter estrutural da violência e não cair nas polarizações divisórias que colocam o ocidente e o feminismo (colonial) de um lado e o oriente - e o Islã, a subalternidade e o “resto” do mundo - do outro. É preciso respeitar as diferenças, mas em um mundo globalizado, a responsabilidade das injustiças culturais ou sociais praticadas é de todos (Abu-Lughod, 2012). Veremos então, a seguir, algumas formas alternativas de enfrentamento das situações violentogênicas e paradoxais discutidas acima.
Saídas decoloniais e autônomas
Devido a essa escassez de alternativas, buscamos aqui dar luz a algumas possíveis saídas - ou entradas - para Layla, sem que haja necessidade de obrigatoriamente depender da visão do discurso ocidental, repressor e limitado, ao negar a pluralidade e rejeitar a singularidade. Um exemplo para um caminho desse tipo é adquirir os aprendizados do devir no processo migratório, do cruzamento de fronteiras. Um devir que pode partir de uma “cartografia migratória” (Guattari e Rolnik, 1996), é uma “cartografia que resiste à fixidez, à compreensão fechada ou consumo fácil, uma vez que produz uma forma de conhecimento que problematiza uma única fonte, ou o binarismo da tradição dominante.” (Torres, 2005: 732). Indo em sentido contrário à postura normatizante e estigmatizante do sistema dominante, os movimentos migratórios permitem a transitoriedade de categorizações cristalizantes (Torres, 2005).
Atravessar fronteiras e habitá-las, portanto, é um processo que pode trazer uma constante inquietude e vulnerabilidade, por ser um lugar fluido, híbrido e ambivalente, que pode implicar o “fim do estupro, da violência, da guerra” (Anzaldúa, 1987: 80), ao trazer uma espécie de libertação do pensamento ocidental. Porém, a transformação que este deslocamento pode produzir demanda, previamente, a conquista do estado de sobrevivência (Torres, 2005), algo que o feminismo hegemônico (ou seja, colonial) desconhece.
Em contrapartida, o “feminismo da diferença”, trazido pela mesma autora (Moraga e Anzaldúa, como citado em Torres, 2005), junto com outras autoras feministas, possibilita a alternância e a troca entre os diversos discursos acessados, ao integrar as partes, gerando, assim, essa nova perspectiva. Refere-se a uma diferença, porém, que vai para além da “outridade”, que ao ter acesso à “dupla consciência”, cria uma terceira margem, a margem que contém os “desterritorializados”. Uma identidade não identitária, que cria um processo a ser constantemente construído, e visando o novo. Processo este, que busca a inclusão do múltiplo, do novo, com foco na tolerância das contradições, para destacar as semelhanças com o/a outro/a, ao invés de apegar-se somente a sua diferenciação (Torres, 2005). Frisa-se, porém, que as identidades também podem ser importantes, devido ao apagamento identitário do CMI. Entende-se a identidade, então, aqui, como uma estratégia colonial que, posteriormente, passa a servir como uma tática decolonial.
Zaatari (2005) propõe a contação de histórias - e experiências - tanto como uma ferramenta para o desenvolvimento do ativismo, como também para o processo da subjetivação. Falar e escrever sobre tais histórias silenciadas, negadas e apagadas é opor-se a ficar nesse lugar de “Outridade” e traçar um caminho para existir como sujeito capaz de ser ouvido e reconhecido, de “tornar-se sujeito” e decolonizar a consciência e o pensamento. Supor a ausência de um sujeito que fala, como ocorre nas enunciações “neutras” e “universais” do cientificismo, é o que dá sustentação à ideologia de neutralidade científica, sendo essa uma estratégia para se poder depositar no/a “outro/a”, o que não se quer reconhecer em si mesmo/a, ao projetá-lo, como ocorre através do racismo e do machismo (Kilomba, 2019).
Para quebrar essa lógica colonial-capitalística, o que Segato (2012) sugere no lugar da relativização cultural é a argumentação histórica. O reconhecimento do pluralismo histórico é elaborado por meio de argumentos históricos, e não relativistas, o que além de respeitar as diferenças, confere autonomia às partes. Com as relações interculturais, são permitidas as hierarquias entre culturas, o que contribuiu para que o ocidente se desenvolvesse imperialísticamente. Ao tratar de “outras” culturas, com o olhar a-histórico e anti-histórico do culturalismo, a vida de povos subalternizados, transparente ao Estado e sem autonomia, é ameaçada, visto que suas bases quanto à forma de ser e atuar são outras, comparando com as do poder estatal universalizado pela cultura ocidental e que busca a eliminação desses povos. (Segato, 2012).
Faz-se necessário desprender-se da imposição do conceito da identidade para pensar em um povo que se auto percebe como inserido nesse projeto histórico, mesmo que essa inserção se dê por meio de relações ou percepções conflitantes. Um povo é o projeto de ser uma história. Essa história pode ser interrompida e retomada com o cruzamento de outras narrativas históricas. Assim, as trocas poderiam ocorrer no plano da interhistoricidade ao invés de interculturalidade (Segato, 2012).
Baseando-se no relativismo cultural e no direito às diferenças, não é possível falar em autonomia, pois nessa perspectiva se mantêm as relações eurocentradas, em que há uma referência unívoca de cultura ou episteme, que percebe e administra as outras e seus povos como diferentes. A subalternidade, em relação ao padrão universalizante da ordem colonial moderna, é um assunto irrelevante, incompleto e descartável. A lógica masculina e colonial do discurso ocidental propaga o discurso de igualdade ao mesmo tempo em que expele a diferença à marginalidade, em condição de “problema”. Viver de forma decolonial, então, é encontrar brechas de saída desse binarismo institucionalizado entre “nós” e o “resto” (Segato, 2012). A autora indiana Gayatri Spivak (1994) também propõe que o processo descolonial precisa refazer a história, evitando narrativas baseadas em oposições binárias e em continuidades. Cabe incorporar, nesta análise, o enfoque interseccional, que aposta na sensibilidade crítica e política sobre as diversas formas de opressão - de gênero, raça, classe, sexualidade, território - de forma articulada, situada e contextualizada (Viveros Vigoya, 2016).
Para isto, é preciso acessar a “dupla consciência”, no intuito de conquistar autonomia e pertencimento (Zaatari, 2005). Para resolver dilemas que incluem agressões dos dois "lados", o do opressor e do oprimido, Malek (2005) responde a três perguntas auxiliares, a respeito de “quem” está realizando a agressão, “onde” e “o que” é o assunto da agressão. Ela prioriza a luta racial entendendo que as maiores desigualdades que ocorrem no mundo são devido à raça também, e não somente ao gênero. Então, apesar da opressão de gênero, os ataques à cultura árabe concernem às suas mulheres também, e não somente a seus véus ou a seus homens, visto que o poder do Talibã, que obrigava o uso da burca, se consolidou com a ajuda dos próprios Estados Unidos (Malek, 2005). É um pensamento independente da estrutura do CMI o que parece não estar no filme Layla M..
A resistência de Layla nasce a partir das tentativas de responder à homogeneização e discriminação praticadas pelo discurso dominante. A angústia e o sofrimento de Layla daí advindos são expressos em revolta, o que gera conflitos, desaprovações e uma maior exclusão do outro "lado" - Estados, governos, e sujeitos que se identificam com a “classe capitalista” (Federici, 2017). O filme em questão retrata não somente o que é ser Layla, mas também o desconforto que ela provoca à lógica dominante. Isto é, inicialmente, ao despertar para tais características excludentes do social, que lhe negam o sentimento de pertencimento, ela busca expô-las. Porém, o que ela recebe de volta é a escalada de tais processos discriminantes e silenciadores. Sendo a única voz questionadora, é calada e eventualmente eliminada quando interage com quem busca residir ou reside “neste lado da linha”. Após a sua volta do Oriente Médio, sua entrada na Europa é negada, não por causa de sua teimosia juvenil, conclusão à qual o filme facilmente pode conduzir. Mas devido à seletividade social prévia e naturalizada, sustentada pela e sustentadora da lógica social hegemônica, que determina quem é digno de receber “Vida” e quem deve ser inferiorizado para que haja a “continuidade histórica” desejada. Num primeiro olhar, o filme de Mikje de Jong aparenta girar em torno dos racismos que Layla sofre e seu envolvimento com o radicalismo. No entanto, ao adentrar nas análises feitas neste trabalho, pode-se entrever toda a potência múltipla que sua voz gera.
São diversas as Laylas pelo mundo, ou sujeitos que compartilham de sentimentos semelhantes dentro deste sistema. Entretanto, um filme, em especial um filme pautado sobre temáticas sociais, é também representante de aspectos da realidade e co-criador desta. Sua produção opta por uma das formas possíveis de representar acontecimentos. Portanto, percebe-se, neste contexto atual e pelos efeitos produzidos por meio do filme, a necessidade de movimentação, de ação em conjunto - uma das maiores ameaças para um sistema que almeja a repressão, a fragmentação, o controle, a estagnação e a ordem, em decorrência de ideologias produtivistas e apegadas à colonialidade.
Entende-se aqui, entretanto, que a ação não necessariamente refere-se a grandes mobilizações e macrorrevoluções somente. Narrar a sua história não consiste apenas em movimentar e movimentar-se, mas também pode ter um efeito revolucionário, como vemos em Layla M., onde tantas pessoas se movimentam no entorno da personagem pelo fato dela expressar o que sente, de se atentar à realidade, ao ter acesso à “dupla consciência”. O que ela faria se fosse ela produzindo seu próprio filme? E quais são os efeitos da narrativa de Layla por Layla? As possibilidades são múltiplas, mas as insurgências também o são.
Recebido: 15 de junho de 2022
Aceito: 8 de setembro de 2022
Corpus
Jong, Mijke de [diretora] (2016). Layla M. [Filme]. Chromosom Filmproduktion, Imaginarium Films, Menuet bvba.
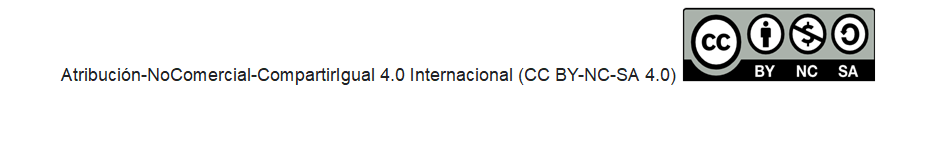 |
Referencias Bibliográficas
Abdulhadi, Rabab; Naber, Nadine e Alsultany, Evelyn (2005). Gender, Nation, and Belonging: Arab and Arab-american Feminist Perspectives. An Introduction. The MIT Electronic Journal of Middle East Studies, vol. 5, Spring, Gender, Nation and Belonging: Arab and Arab-American Feminist Perspectives. https://dome.mit.edu/bitstream/handle/1721.3/177976/MITEJMES_Vol_5_Spring2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Abu-lughod, Lila (2012). As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação?: Reflexões antropológicas sobre o relativismo cultural e seus Outros. Trad. João Henrique Amorim e Soraya Fleischer. Estudos Feministas, 20 (2), 451-470. https://doi.org/10.1590/S0104-026X2012000200006
Alsultany, Evelyn (2005). Dislocations: Arab Jews And Multicultural Feminism. An Interview with Ella Shohat. The MIT Electronic Journal of Middle East Studies, vol. 5, Spring, Gender, Nation and Belonging: Arab and Arab-American Feminist Perspectives. https://dome.mit.edu/bitstream/handle/1721.3/177976/MITEJMES_Vol_5_Spring2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Anzaldúa, Gloria (1987). Borderlands/La frontera: The new mestiza. Aunt Lute.
Butler, Judith (2015). Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Tradução de Sérgio Lamarão e Arnaldo Marques da Cunha. Civilização Brasileira.
Coimbra, Cecilia Maria Bouças; Bocco, Fernanda e Nascimento, Maria Lívia (2005). Subvertendo o conceito de adolescência. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 57 (1), 2-11. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1809-52672005000100002&lng=pt&nrm=iso
Deleuze, Gilles e Parnet, Claire (1998). Diálogos. Tradução de Eloisa Araújo Ribeiro. Escuta.
Estrada, Rodrigo Duque e Mattos, Fernando Preusser de (2014). Os Estados Unidos e a região do Magreb-Sahel: securitização, militarização e terrorismo. Leviathan. Cadernos de Pesquisa Política, n° 8, 124-150. DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2237-4485.lev.2014.132348
Federici, Silvia (2017). Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. Tradução de Coletivo Sycorax. Elefante.
Figueiredo, Carlos Vinicius da Silva (2014). A representação do subalterno em Borderlands/La Frontera, de Glória Anzaldúa. Cadernos de Pós-Graduação em Letras, vol. 14, n. 2, pp.101-109.
Foucault, Michel (2008). Arqueologia do saber. 7 ed. Tradução de Luiz Felipe Baeta Neves. Forense Universitária.
Gaspar, Nádea Regina (2007). Análise do discurso: a leitura no foco do audiovisual. Polifonia, vol.13, n° 13, pp. 59-76. https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/polifonia/article/view/1061
Guattari, Félix (1981). Revolução molecular: Pulsações políticas do desejo. Tradução de Suely Rolnik. Brasiliense.
Guattari, Félix e Rolnik, Suely (1996). Micropolítica: cartografias do desejo. 4. ed. Vozes.
Hall, Stuart (2006). A identidade cultural na pós-modernidade. 10 ed. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva e Guaracira Lopes Louro. DP&A.
Hall, Stuart (2016). O Ocidente e o resto: discurso e poder. Tradução de Carla Delia. Projeto História, (56), pp. 314-361. https://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/view/30023
hooks, bell (2019). Anseios: raça, gênero e políticas culturais. Tradução de Jamille Pinheiro Dias. Elefante.
Kilomba, Grada (2019). Memórias da plantação: episódios de racismo cotidiano. Tradução de Jess Oliveira. Cobogó.
Malek, Alia (2005). Why Are We Always Fighting and What Are We Fighting For? Alternating Defensive Postures and The Relevance of Rights to Arab and Arab-American Women. The MIT Electronic Journal of Middle East Studies, vol. 5, Spring, Gender, Nation and Belonging: Arab and Arab-American Feminist Perspectives. https://cdn.atria.nl/ezines/DivTs/MITelectronicJournal/2005/Spring.pdf
Preciado, Paul B. (2018). La izquierda bajo la piel: um prólogo para Suely Rolnik. Tradução Josy Panão. Em Suely Rolnik, Esferas de Insurreição: notas para uma vida não cafetinada (pp. 11-21). n-1 edições.
Quijano, Aníbal (2005). Colonialidade do poder: eurocentrismo e América Latina. Em Edgardo Lander (org.), A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais: perspectivas latino-americanas (pp. 107-130). CLACSO.
Rolnik, Suely (2018). Esferas de insurreição: notas para uma vida não cafetinada. n-1 edições.
Segato, Rita (2012). Gênero e colonialidade: chaves para uma leitura e um vocabulário estratégico descolonial. Tradução de Rose Barboza. e-cadernos CES, n°.18. https://doi.org/10.4000/eces.1533
Silveira, Raquel e Nardi, Henrique (2015). Interseccionalidade e violência de gênero contra as mulheres: a questão étnico-racial. Em Hildeberto Vieira Martins, Marcos Roberto Vieira Garcia, Marco Antonio Torres, Daniel Kerry dos Santos, (orgs). Interseções em Psicologia Social: raça/etnia, gênero, sexualidades (pp. 55-79). ABRAPSO.
Soares, Leonardo e Miranda, Luciana (2009). Produzir subjetividades: o que significa? Estudos e Pesquisas em Psicologia, 9 (2), pp. 408-424. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1808-42812009000200010&lng=pt&nrm=iso
Souza Santos, Boaventura (2007). Para além do pensamento abissal: das linhas globais a uma ecologia de saberes. Revista Crítica de Ciências Sociais, Coimbra, n.78, pp. 3-46. http://journals.openedition.org/rccs/753
Spivak, Gayatri (1994). Quem reivindica a alteridade?. Em Heloísa Holanda (org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura (pp. 187-205). Rocco.
Torres, Sonia (2005). La conciencia de la mestiza / Towards a New Consciousness– uma conversação inter-americana com Gloria Anzaldúa. Estudos Feministas, vol. 13, n° 3, pp. 720-737. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2005000300016
Viveros Vigoya, Mara (2016). La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista, vol. 52, pp. 1–17.
Zaatari, Zeina (2005). In the Belly of the Beast: Struggling for Non-Violent Belonging. The MIT Electronic Journal of Middle East Studies, vol. 5, Spring, Gender, Nation and Belonging: Arab and Arab-American Feminist Perspectives. https://cdn.atria.nl/ezines/DivTs/MITelectronicJournal/2005/Spring.pdf